Segundo Kernberg, o bebé nasce com estruturas prontas a receber o que se designa por vivências ou aspectos. Para além destas estruturas, o bebé está também munido de forças da natureza, a que Freud chamou de pulsões – afectiva e de agressividade.
Segundo Freud e outros autores, nos primeiros três meses de vida, o bebé vive um estado de indiferenciação em relação ao meio exterior. Este está ainda virado para si próprio, inclusive a sua visão neste período não alcança mais do que 28cm. Aos seis meses de idade, o bebé irá conseguir ter uma focagem com uma longitude considerável, até aos 3 metros de distância, surgindo o interesse pelo exterior a vários níveis sensoriais.
O primeiro mecanismo psíquico do bebé é de carácter defensivo, mas sobretudo de organização destas vivências que vai absorver do novo meio. É ainda uma organização primitiva, mas face ao caos sentido, é a organização possível.
Por volta dos 18 meses o bebé adquire aquilo a que chamamos, a constância do objecto. Mesmo não estando visível o objecto, ele existe para a criança. Quando a criança faz 24 meses, no culminar da fase depressiva, a relação de objecto é integrada. Deixa de estar clivada, existindo um entendimento mais fidedigno do bebé sobre a realidade exterior.
Se quisermos encurtar caminho, estes serão os passos principais para que o bebé se consiga ligar ao mundo – ver o objecto; saber o objecto (mesmo não o estando a ver); e entender o objecto (como um todo).
Quando se é dono destas faculdades mentais, que permitem ao sujeito interagir com o mundo, ele está apto a ser autónomo e, se tudo correr bem, vai amadurecendo as suas relações de objecto com novas experiências que representarão novas perspectivas. No entanto, no decorrer desta viagem, por diversas razões que não interessam especialmente descrever, o sujeito pode perder capacidades mentais, fincando com uma dinâmica psicológica diferente da do estado para que tinha evoluído. O Parkinson, o acidente vascular cerebral, a esclerose múltipla, as alucinações, entre outras mais sintomatologias, podem inclusive apressar a morte física do sujeito, são alguns exemplos de estados possíveis pela degeneração da estrutura psíquica.
Algo da ordem da falha e que não necessariamente motivado pela lei da natureza humana. Antes, produto da mutação genética ou da afetação do meio ambiente. No caso das alucinações, por exemplo, estas devem-se à falha da integração do excesso de introjeções de aspetos negativos. Já no caso da esclerose múltipla, a teoria atual aponta para uma predisposição genética que combinada com a afetação do meio geográfico (contraste significativo de temperaturas), induzirá a vasoconstrição. O mesmo se poderia pensar em relação às mutações genéticas que necessariamente interferem nas capacidades psíquicas e físicas de um sujeito.
Podemos pensar nestes exemplos como desvios ao percurso de uma vida. Algo que corre mal ou que estava pouco sólido para que conseguisse aguentar toda uma viagem, até ao acontecimento de uma falência de sustentação da harmonia interna.
A questão de se o que é comummente denominado por regressão não está a ser confundido por degeneração tem sido levantada pelo investigador Manuel Correia.
A regressão, o voltar a perder aquilo que se conquistou, o voltar atrás, à natureza essencial, parece-nos ser, como o investigador refere, diferente de um estado degenerativo. No final de um percurso de vida, um sujeito volta a usar fraldas, a ser auxiliado, a fazer tempo na janela a ver os carros passar. Está em espera, como um bebé que espera para crescer.
Esta ideia ficou-nos mais clara depois do acompanhamento de um paciente de 79 anos, a quem chamaremos Miguel. Após ser submetido ao terceiro e último grupo de sessões de radioterapia, começou a sofrer graves danos físicos que lhe tiraram a mobilidade. Tratava-se de um homem mentalmente saudável. Organizado, com memoria vasta e com um relacionamento harmonioso com ambas as suas pulsões.
Depois uma longa dose de radioterapia, durante a própria sessão, este “perdeu as pernas”. Deixou de as sentir. Foi pelo seu próprio pé e depois desse dia nunca mais caminhou. O acompanhamento foi solicitado pela mulher, passados algumas semanas, quando se apercebeu de estar a desanimar devido à hospitalização e à incapacidade locomotiva.
Nas primeiras sessões foi verificado que o paciente era de facto uma pessoa psicologicamente bem organizada e que estava a lidar com tal situação de uma forma surpreendente. Passaram-se os primeiros meses e é mudado para uma residência de reabilitação. Face ao insucesso na recuperação do andar, começava a mostrar os primeiros sinais de intolerância à frustração de quem sempre andou e agora não se conseguia mexer da cintura para baixo. Outras queixas haviam, como o facto de lhe serem estranhas as pessoas que lhe davam banho e o limpavam na casa de banho, assim como a dor que sentia por estar tanto tempo só, quando antes deste episódio dormia e fazia a vida com a sua companheira.
Ainda bem ciente, disse que preferia não ter feito radioterapia e que agora nesta situação desejava pôr fim à vida. Perdeu a esperança numa vida com qualidade de autonomia e de afeto. O pouco que tinha, quando tinha, não era suficiente. No entanto ninguém o queria ajudar a morrer, mas a viver…
Com o decorrer das semanas o Miguel ficava gradualmente mais confuso. O ambiente regressivo não ajudava. Estava sempre de pijama, passava mais tempo na cama do que em contacto com outros utentes, usava fraldas, comia pela mão de um terceiro (papas) e era tratado de forma condescendente, como um menino, por alguns auxiliares, coisa que o irritava e que no início ainda sentia que valia a pena manifestar-se.
Quando perdeu totalmente a esperança na recuperação tentou forçar a morte ao isolar-se de tudo o que poderia receber. Não contactava com as pessoas exteriores e rejeitava alimentar-se. Ficou bastante magro, em estado catatónico, mas não conseguia morrer. Recuperou e passados alguns meses fez uma segunda tentativa. Percebeu que a morte não estava nas suas mãos, mas o desespero e a elevada frustração não o abandonavam. Deixava-se andar sem poder andar. Tentava-se adaptar a essa nova condição e decorridos um ano e meio parecia sentir-se melhor. Referiu que via o mundo com uma nova perspetiva e queria ter o máximo de qualidade de vida. Foi de pouca dura, ainda que posteriormente o estado de esperança e de depressão iniciassem uma frequente cadência alternada entre si.
Foi por esta altura que os primeiros sinais de confusão mental e as alucinações começaram a romper. Com o decorrer das semanas este quadro foi-se adensado. As alucinações eram recorrentes e convictas ao ponto de não poderem ser negadas; a memória era afetada pelo delírio; e o discurso passou a ser em símbolo, tendo que ser descodificado para ser entendido. A terapia deparava-se com um novo desafio de repor organização mental e a confiança de que mesmo em símbolo a relação podia ser mantida, trabalhando sentimentos como a vergonha, advinda dos rasgos de consciência de estar com falta de capacidades para um discurso mais elaborado.
No decorrer desta confusão psíquica, surgiu a perca da constância do objecto dirigida, entre outros, ao terapeuta, mas sobretudo à companheira que estava a maior parte do tempo com o paciente. Se a companheira fosse almoçar ela não estava lá há semanas. Mesmo o elemento da carteira em cima da mesa, não demovia esta convicção.
O estado do paciente foi-se avolumando ao ponto de se evadir de si mesmo. Os olhos que olhavam estavam desabitados. Uma das últimas frases que terá dito, foi a de que “hoje não fui verificar a correspondência”. De facto, não estava capaz, nem queria corresponder. Estava “farto”, como dizia. Farto de lutar, mesmo acompanhado e no fim recusou a ajuda. Desculpava-se com sono. Só queria descansar, de vez.
Este pequeno excerto de um estudo de caso poderá ajudar a compreender como algumas faculdades conquistadas pelo ser humano, perdem a luta no final. O ver, o saber que existe, o organizar as existências, vem e vai. O mundo deixa de existir quando nós deixamos de nos existir / deixamos de ir “buscar a correspondência”. Voltamos ao princípio que é o fim: regride-se.
Se regredir não é degenerar, talvez possamos pensar, no entanto, que uma se faz acompanhar da outra, não podendo uma existir enquanto fenómeno isolado. Por causa disso, no declínio das condições físicas e mentais da pessoa, esta regride não para a fase literalmente homeostática original, mas para estados pré-genitais. Parece-nos que a degeneração de parte das funções físicas e/ou mentais, de forma mais ou menos inconsciente, pode servir de meio para a atuação da regressão. Ou seja, a pessoa serve-se da sua incapacidade parcial para regredir e, por consequência, satisfazer aspetos orais, anais e até edipianos que ficaram por preencher ao longo da vida.
A degeneração física e/ou mental do idoso serve então para justificar a regressão a uma posição de dependência infantil (aqui em oposição à dependência madura, de Fairbairn). Por exemplo, quando o idoso recupera de uma operação ao joelho e apesar de se conseguir movimentar, insiste excessivamente (e o excesso aqui é de sublinhar porque distingue o equilíbrio/adaptado do desequilíbrio/desadaptado) que outros lhe vão buscar o que quer enquanto ele fica sentado no sofá a ver o seu programa de televisão.
Repare-se como mais uma vez o saber popular transgeracional capta este fenómeno através da expressão “há males que vêm por bem”. O mal aqui é a degeneração, como por exemplo, ficar com os movimentos de uma mão e braço limitados após um AVC. O bem aqui é o poder retomar vivências infantis por preencher (se for caso de necessidade) ou por resolver (se for caso de conflito), por exemplo, aspetos orais de se sentir amado e bem alimentado pela mãe (necessidade essa que será deslocada sobre quem o cuida e alimenta) ou ficar entregue aos cuidados da filha e do genro, colocando-se numa posição de terceiro edipiano e tentando rivalizar, focar as atenções sobre si próprio e separando o casal.
Em certo nível, pensamos que poderá ser esta a questão a criar alguma confusão entre degeneração e regressão. Torna-se difícil distinguir até que ponto estamos perante os efeitos da degeneração ou da regressão. Em muitos casos, talvez até sejam simultâneos. Contudo, destacamos que a degeneração, pelo menos quando é parcial e não total, pode ser acompanhada da regressão do Self a estados pré-genitais. A perca de funções físicas, aparte da efetiva limitação que acarreta, é também utilizada como justificação para o Self se acanhar e envolver na procura de satisfazer o que na infância não foi vivido, como por exemplo, ser tão bem cuidado como não foi em criança.
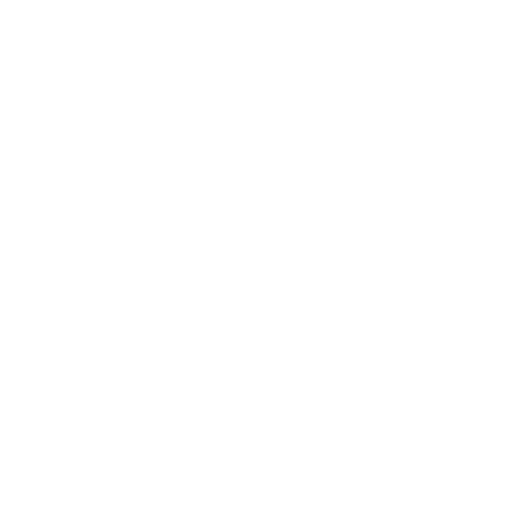
No fim da volta da vida, quando se entra em direção de regressão / ao regresso de não ser, há ainda um outro fenómeno que nos desperta muita curiosidade. Uma situação recorrente, embora difícil de quantificar, refere-se ao que simbolicamente se conhece como “as melhoras da morte”.
O termo representa a pessoa doente que após dias, semanas ou até meses de sofrimento mais ou menos permanente, pautados por dor, gemidos, ansiedade, agitação e queixas, de forma repentina, passa a aparentar uma sensação de bem-estar e muita tranquilidade, mesmo sem quaisquer melhoras do seu estado fisicamente debilitado. Como se toda a vivência de sofrimento tivesse terminado e, espontaneamente, a pessoa se sentisse tranquila, não agressiva e com relativo bem-estar. Após esta mudança do estado emocional é também recorrente a morte. Um exemplo concreto de uma vivência semelhante foi facultado por uma enfermeira:
“A senhora ‘X’ estava há semanas num estado de degradação de saúde, a gemer continuamente, com dores de certeza fortes que os analgésicos já pouco acalmavam, tanto que até nos causava impressão em ir junto dela… sofria constantemente, mal conseguia descansar… até que um dia, quando entro no quarto dela para fazer a rotina da manhã, parecia outra pessoa: estava deitada com um sorriso a olhar para mim, um aspecto até doce, sem gemer, sem aparentar sofrimento algum… e eu, admirada, perguntei como se sentia… ao que ela pediu para me chegar perto dela e respondeu bem querida… sabes, hoje vou morrer.
Isto foi dito de uma forma calma, sem pânico ou horror. De tal modo surpreendente que eu apenas soltei um “não vai nada, não pense nisso”. Ao que ela responde vou sim, obrigado pela sua atenção e tudo o que fez por mim, mantendo sempre um sorriso e transmitindo uma tranquilidade que me espantaram. A meio da tarde faleceu mesmo, de forma tão tranquila como aceitante.”
Freud conceptualizou a existência do instinto de vida e do instinto de morte. O instinto de vida estará relacionado com a auto-preservação, a sobrevivência e o sexual, assim, constitui a força criativa, unificadora e sustentadora da vida. Antagonicamente, o instinto de morte reflecte a força da destruição, seja contra o próprio Self ou contra os objectos.
Citamos Haddad de Andrade para recordar a vertente auto-destrutiva do instinto de morte, a mesma que impele a vivência para a morte, para a estagnação e a ausência de qualquer conflito ou ansiedade: “A ameaça de morte faz-nos querer viver! E não só: se o estar satisfeito é o mais importante, o nosso destino está comprometido com a estagnação, com a banalidade. São as insatisfações e as ameaças que nos mantêm permanentemente ativos e criativos. (…) A morte é uma experiência interna comum: quando desanimados sabemos que está a morrer o ânimo; quando desamparados matamos a esperança, a alegria, a confiança nos nossos próprios recursos. Quando cheios de ódio sabemos que estamos a matar ou que está morto o afeto, o querer bem.”
A construção teórica de Freud parece ter sido ela própria alvo de correções e revisões ao longo do tempo, refletindo exatamente a força do instinto de vida, o evitamento da estagnação, do limite, enfim, da morte. Vem isto a propósito do princípio do prazer como significante para a experiência de evitar o inevitável desprazer a que estamos devotados desde o nascimento e, além disso, de procurar o prazer, a satisfação.
Regressando ao tema das “melhoras da morte”, ao pensarmos no mesmo com recurso à teoria dos instintos, colocamos como hipótese que esse momento de relativo bem-estar antes de morrer é o momento em que o instinto de vida cede e toda a luta que travou ao longo da vida com o instinto de morte foi dada como perdida. O instinto de morte prevalece, vence se quisermos, ao instinto de vida. É a desistência depois da resistência. Como se as defesas chegassem ao ponto de esgotamento e nada mais restasse ao Self do que aceitar a inevitabilidade da vida: a morte. E, desse modo, essa aceitação tranquila evidenciada no caso ilustrado parece corresponder ao tal estado de ausência de ansiedade, de ausência de conflito, pois o espaço psíquico ficou à mercê da atuação do instinto de morte. Assim, damos também razão aos defensores do instinto de morte como uma força que tende para o aniquilamento do próprio Self e para um estado homeostático.
Este momento a que se chama “melhoras da morte” é realmente algo de intrigante e que desperta curiosidade. É como se este representa-se uma trégua entre os dois instintos, permitindo o final do conflito. No fundo é o conflito, este conflito que nos faz viver. Uma mediação de partes. O instinto de morte que nos afasta dos outros, numa conservação de energia, e o instinto de vida que nos faz agir sobre o exterior. O ser humano não podia ser uma ou a outra coisa isolada, pois tal situação inviabilizaria a vida, como acontece no término deste percurso.
Coexistem, então, o instinto que impulsiona o sujeito para a realidade exterior, a ser relacional, em diálogo (vida) e o instinto de preservação energética, que não renova, em circuito fechado (morte). Trata-se de uma tensão entre estas duas “vontades”. Contudo, numa fase final, a ligação à realidade, como satisfação dos seus impulsos, é dolorosa e deixa de ser gratificante, como é a de um bebé que “grita” por leite e lhe é satisfeita a vontade. Aqui o grito exterior não tem alfa. Não vale a pena gritar quando se esgotam as crenças nas respostas aos já comportamentos automatizados e habituados à possível satisfação. Não quer dizer que α não esteja disponível no exterior. Este simplesmente poderá não conseguir recebê-lo como tal. Há o aspeto da luta contra o próprio corpo doente. Por mais que queira, por mais que seja bem cuidado e amado, algumas funções corporais e mentais estão comprometidas no doente terminal e impedem-no de usufruir dessa resposta satisfatória por parte dos objetos.
A determinado ponto existe uma perceção que este investimento pulsional/energético no exterior não verá a sua energia renovada. É gasto por gasto, sem algo que convença o instinto de morte de que vale a pena continuar a investir. O investimento deixa de ser investimento. Faz-nos lembrar de que quando acompanhamos doentes terminais, sem o termos plenamente consciente, nós terapeutas, tentamos incutir força ao paciente, sendo essa força não mais do que a vida pulsional. Queremos que ele não “desista” do seu instinto de vida. Queremos ser α. Queremos que ele se zangue, que ele tenha libido, e a experiência têm-nos demonstrado que isso realmente prolonga a vida de um ser. O terapeuta está lá como recipiente dessas pulsões, não sendo essas em vão. A energia é direcionada, em oposição à condição de hospitalismo que Bion tanto estudou. De facto, quando apelamos ao instinto de vida no paciente já psicologicamente debilitado, o conflito “ganha vida”, ganha esperança numa vida relacional. Por outro lado, quando o investimento energético não for sentido como renovado, este cessa e põe paz. Paz para um último olhar sereno pela vida, sob a soberania do instinto de morte. Um momento de paz para uma despedida. A vida aceita a morte/o conflito aceita o seu fim, talvez por isso se chame à morte de “eterno descanso “.
Este fim do conflito é um regresso ao estado inicial, de homeostase e sem uma vida separada, como o é a vida intra-uterina. A pulsionalidade não é necessária para “fazer frente à vida”, pois a condição de luta pela autonomia deixa de se colocar. O sujeito abandona o seu ser separado e o seu corpo. Deixa de ter por que lutar, deixando de ter de Ser, deixando-se ir, “em paz” com a morte.
O instinto de morte, enquanto aniquilador do Self, é opositor da vida e do desenvolvimento, portanto “mandatado” para impedir a relação, a união, o contacto com o exterior e o progresso (no fundo, tudo o que são tarefas do instinto de vida). Repare-se na expressão popular “parar é morrer”. A homeostasia e a morte aparecem como equivalentes. Morrer é um dado adquirido e viver é a missão atribuída a quem nasce e, de uma certa perspetiva, o afastar ou adiar do fim inevitável. Se entrássemos numa discussão mais detalhada sobre o assunto, talvez encontrássemos maior variedade de estados para lá desta redutora ambivalência que estamos a tomar: ou vida ou morte. No entanto, julgamos que essa desistência da vida por falta de esperança, por falta de um alfa ou por falta de respostas satisfatórias do meio pode ter significados díspares e merece ser discriminada.
Neste sentido, ocorre-nos o conceito de “retirada mortífera”, à semelhança mas distinto dos conceitos de retirada depressiva. Na retirada depressiva, o Self deprime e afasta-se da relação com o objecto amado, pelo défice de economia afetiva que essa relação lhe trouxe, mas mesmo retirado, este mantém como que uma constância e uma alucinação do objecto idealizado (aludimos também à noção de objecto excitante, de Fairbairn) que se expressam na nostalgia e saudosismo tipicamente depressivos (podia/pode ser bom, mas não foi/é). O objecto foi depressígeno mas mesmo que o Self faça uma retirada depressiva, mantém-no vivo internamente. A retirada depressiva não aconteceria se as respostas do objecto de amor fossem maioritariamente satisfatórias.
De outro modo, na retirada mortífera, é o próprio organismo e/ou as funções do Self que impossibilitam receber e usufruir prazerosamente das boas respostas do meio. No doente terminal, deixar de lutar e aceitar que a morte chegue pode-se dever não tanto a uma ausência de respostas satisfatórias do meio mas mais à impossibilidade do próprio Self conseguir usufruir do que de bom estará ao seu dispor. Isto permite associar ausência de respostas satisfatórias do meio à depressão e ausência de condições físicas e/ou mentais da pessoa à desistência da vida. De um lado falha o meio (depressão), de outro falha o próprio Self. No entanto, isto não invalida algo praticamente incontestável, que é o facto de a esperança média de vida aumentar quando há objetos bons e vivências satisfatórias para o Self.
Depois destas reflexões, fica-nos a ideia de que se o fim tender para ser natural, o sujeito perde gradualmente aquilo que conquistou durante a sua experiência de vida, e que não foi mais do que o acesso à vida exterior. Por outro lado, a degeneração não pode ser vista como um regresso, mas como uma falha no caminho, ou se quisermos a repetição/uma predisposição de algo que falhou nos tempos primários. Enquanto que a regressão nos remete para o passado, a degeneração faz-nos pensar num disco riscado, e como tal, a querer seguir em frente, mas a não conseguir, em repetição, presa ao momento presente. Algo da ordem da patologia, do desvio que não desvia, e que fica preso a uma condição. Desta forma, como dissemos, convida o Self à regressão. A degeneração não anda para trás, ainda que também não ande para a frente. Pode ser vista como uma resistência/um apelo a uma carência presente/a simbolização física ou psicológica de um estar de vida. Deste modo, a degeneração pode ser ainda incluída no instinto de vida porque apela ao Outro. Porque procura uma ajuda na relação para uma insuficiência no desenvolvimento do próprio, que como já percebemos, vem de trás, face à regressão, que não é mais do que uma vitória do instinto de morte sobre o instinto de vida.